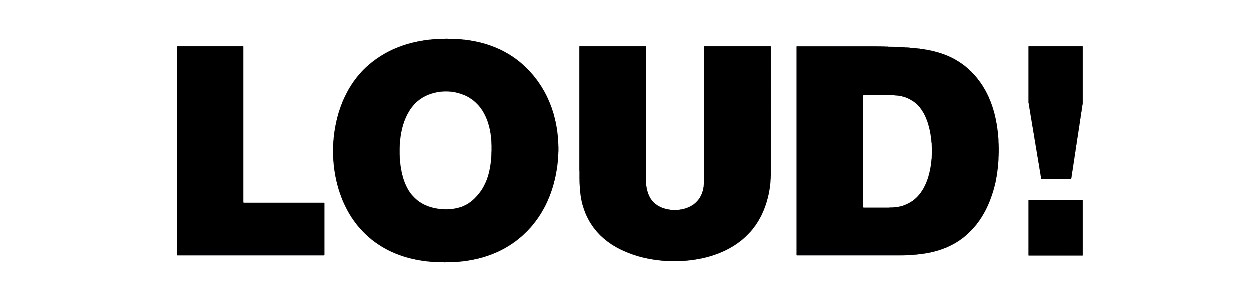Ler o longo diário escrito entre 1659 e 1669 pelo político e cronista Samuel Pepys (membro do parlamento inglês e administrador da marinha real no reinado de Carlos II) é conhecer com minúcia a história íntima do século XVII e é vislumbrar os bastidores de cenários em que se desenrolaram alguns dos acontecimentos mais importantes desses anos. Com efeito, a riqueza informativa e o interesse cultural do diário são maciços; sobretudo quando se pensa que não foi redigido com o fito de ser editado: escrito na críptica taquigrafia inventada pelo estenógrafo inglês Thomas Shelton é pleno de passagens poliglotas e codificadas que deram trabalho a decifrar até encontrar-se a chave na biblioteca de Pepys. A primeira publicação do diário data de 1825.
Na entrada do dia 2 de Agosto de 1664, Pepys registou que o dissoluto autor e encenador Tom Killigrew lhe falou sobre o projecto de construir uma casa de ópera em Moorefields (um campo alagadiço na margem sul de Londres) e que para esse efeito pedira profissionais vindos de Itália, incluindo cantores; porém na entrada do dia 8 de Dezembro de 1666 pode ler-se que esse empreendimento fracassara e que Killigrew se preparava para dizê-lo ao rei. Nebulizadas as esperanças do encenador, Pepys conclui adequadamente a entrada contando que vira fumo evolando-se de umas ruínas carbonizadas pelo grande incêndio de Londres, ocorrido três meses antes. Aliás, no ano seguinte, a 12 de Fevereiro, Killigrew confessou a Pepys que naqueles dias os teatros estavam longe de recuperarem sequer metade da afluência de público do período prévio a essa devastação; nas linhas que se seguem, o encenador queixa-se ainda da falta de gosto musical dos ingleses rústicos quando comparados com os italianos refinados, mas que não obstante o fiasco da casa de ópera de Moorefields não desistira de encenar óperas italianas em Londres com o pessoal que contratara. Deliberadamente, organizou quatro dias depois um evento dessa natureza, para o qual foi convidado Pepys e um número selecto de espectadores: aquilo que de incomum reserva o relato desse dia é o impacto provocado na assistência por dois cantores castrati que faziam parte da companhia italiana – tão invulgarmente altos que um dos convivas confidenciou a Pepys a sua teoria de que a emasculação faria aqueles indivíduos crescerem muitíssimo «como os nossos bois». Não sem razão Killigrew reclamou do gosto conservador dos seus conterrâneos, pois Pepys anotou que até achara graça à música, mas que não gostara dos versos cantados em italiano; especialmente, não viu nenhuma vantagem na prestação dos castrati: «Nem apreciei os eunucos por aí além: o registo vocal deles chega muito alto e tem uma certa melodia, mas ainda assim tenho ficado satisfeito com muitas vozes femininas (…) Agora casa e ceia, não agradado por aí além com a música desta noite, que se esperaria ser extraordinária, segundo aquilo que Tom Killigrew andou a apregoar como sendo a melhor coisa do mundo (…)». Na verdade, a ópera à italiana ainda foi severamente criticada pelos ingleses no despontar do século XVIII em muitos folhetos e polémicas, precisamente por culpa do idioma e do emprego dos castrati, cujo «eunuquismo» conduziria as mulheres à devassidão concupiscente e os homens ao nefando pecado sodomítico. Polémicas à parte, já em meados de Seiscentos a puritana mentalidade setentrional dera passos na direcção de um tipo de ópera à inglesa, cantada em inglês, com contributos pioneiros de William Davenant e de John Blow, mas só pela pena de Henry Purcell, compositor superior e inventor do Barroco musical inglês, a língua de Shakespeare se guindou ao êxito e à posteridade, graças a obras como Dido and Eneias (1678), King Arthur (1691) e The Fairy Queen (1693). Purcell morreu prematuramente de causas desconhecidas em 1695, mas o brilho estampado pelo seu estilo nos palcos da ópera inglesa só muito tardiamente permitiu que luzissem outros nomes, já no segundo quartel do século XX; curiosamente, nomes pertencentes a uma espécie de oitocentista “geração de 70” musical, como os compositores Gustav Holst e Ralph Vaughan Williams.
Estreada em 1951, a ópera The Pilgrim’s Progress que Vaughan Williams demorou mais de vinte e cinco anos a escrever será (na minha perspectiva) aquela que com maior autenticidade evoca a beleza, a energia e o impacto das originais composições de Purcell – o facto de partilhar a mesma epistemologia, enquanto adaptação da peça homónima do pregador puritano John Bunyan (1678), robustece esta acepção. Nesse texto narra-se o progresso de Christian, o titular peregrino, em direcção ao Paraíso numa viagem conturbada por várias provações e tentações que, evidentemente, se modela no figurino da Tábua de Cebes, alegórico texto filosófico escrito em grego nos primórdios da cristandade. Em 1972, o maestro Sir Adrian Boult conduziu a orquestra filarmónica de Londres numa épica interpretação desta ópera bem inglesa: o resultado é epopeico e galvanizante. O encontro do peregrino (desempenhado pelo barítono John Noble) com o demoníaco Apolyon (uma impressionante actuação do baixo Robert Lloyd) e os coros da sequência passada na infernal Feira das Vaidades são, apenas, dois pontos altíssimos num cômputo grandioso. De facto, The Pilgrim’s Progress de Ralph Vaughan Williams será a grande ópera inglesa, cantada em inglês e sobre um tema vitalmente inglês.