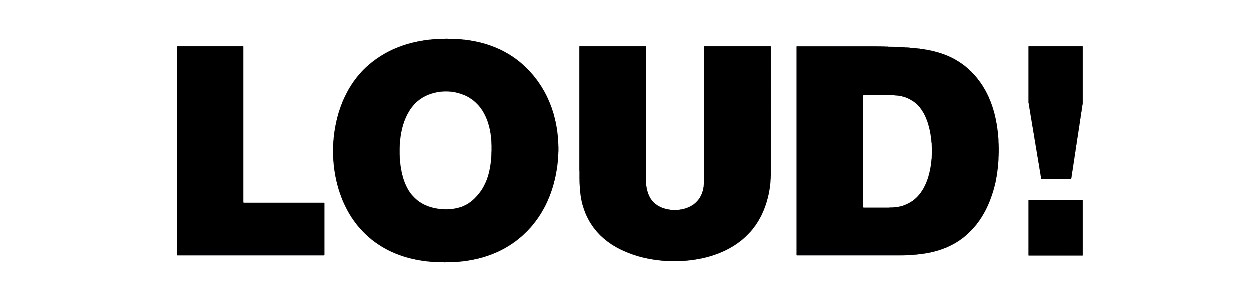Ao primeiro dia “oficial”, o Resurrection já teve os quatro palcos em pleno, e essa foi a principal novidade. Quando um festival ultrapassa os três palcos, torna-se notório que o objectivo já não é assistir a todos os nomes, mas ver um par de temas de alguns e, de resto, centrarmo-nos nos mais atractivos. Começa a ser assim também no Resu. As principais vítimas, para já, são as bandas espanholas, que começam a perder visibilidade. Talvez por isso, a tarde arrancou sem muito público a assistir aos concertos. Como os SPIRITBOX tinham cancelado a sua presença no dia anterior, acabaram por ser os Sepultura a banda internacional que abriu o dia, actuando no Main Stage. Quando um grupo tem na manga uma «Arise» ou «Territory» para gastar logo na abertura, está tudo dito sobre a sua importância. Por outro lado, quando o terceiro tema, «Means To An End», é antecedido de explicações sobre a ausência de Andreas Kisser, entretanto substituído por Jean Patton, e a informação de ser um tema do novo disco, reflecte-se no porquê de estarem neste slot do cartaz, quando antes estariam num lugar bem cimeiro. Esse é o único problema de um irrepreensível concerto dos brasileiros. Porventura com alguns temas, como «Arise», a terem uma roupagem mais hardcore, o que resulta bem com Derrick Green. O resultado só peca porque qualquer fã tenta “ver” a outra formação, aquela que sempre representou a banda.
Os VOMITORY antecederam o seu concerto para a tarde, actuando no palco Ritual, há vários anos o palco do metal mais extremo. Uma decisão que pode ter ajudado a terem mais audiência, mas que visualmente resultou mal. Um som de festival, actuando debaixo do sol e sem pouco para oferecerem visualmente, os suecos tiveram uma daquelas passagens para encher cartaz. Sem um álbum novo há mais de uma década, espera-se que os concertos sirvam para algo mais que passear pelo continente. Os próprios OPETH também tiveram algo de erro de casting. Mikael Åkerfeldt continua bem-disposto e humorado. O alinhamento foi bom, e como sempre soou a curto. O próprio Åkerfeldt referiu isso, “I love talking shit, but we don’t have time to do that”, queixando-se do muito reportório que possuem, e da dificuldade de o meter no espaço de tempo disponível. Fredrik Åkesson está cada vez mais incontornável na guitarra e mesmo nos coros, complementando perfeitamente Mikael. Então onde reside o “erro”? Na posição de cartaz, e hora. Uns OPETH cada vez mais progressivos, condicionados a tocar debaixo da luz do dia, com o efeito visual reduzido a zero, e a abrirem para os JUDAS PRIEST, não é desejável. Ao contrário dos SEPULTURA, que os antecederam, a sua carreira ainda não está, ou não pode estar, em declínio. No resto, esteve lá «Ghost Of Perdition», naturalmente, mas também «The Devil’s Orchard», «The Drapery Falls», «Sorceress» e «Deliverance».
Em festivais onde o Main Stage está dominado pelo aparato e outros condicionalismos do cabeça-de-cartaz é por vezes nos palcos secundários que reside a curiosidade e os concertos de mais valor, quase sempre curtos e óptimos para descobrir bandas. No caso dos BENIGHTED, no Ritual Stage, não foi uma questão de descobrir, mas de certificar que os franceses, nesta encarnação grindcore, estão entre as mais interessantes bandas do género. Foi um excelente concerto, com o vocalista Julien Truchan a terminar agradecendo ao público ter o espírito aberto para assistir à sua actuação, encaixada entre bandas de estilos bem diferentes do seu. Ao lado, também os WIEGEDOOD mostravam as suas qualidades, mas não são o tipo de banda para ver debaixo do sol. Contrariedades de actuar num cartaz de Verão.
Os JUDAS PRIEST eram os cabeças-de-cartaz e fizeram, cenicamente, jus à escolha. O público está lá para ver uma lenda do metal, como quem visita um clássico num museu. Halford nunca decepciona, numa actuação em que disfarça o peso da idade retraindo-se da frente de palco, com passos lentos e voz reforçada por reverb. Claramente a dinâmica passa por Halford e Richie Faulkner. Ian Hill, como sempre, está no fundo do palco e poucos o notarão, mesmo que seja o fundador da banda, único membro presente ao longo do mais do meio século que agora se celebra. Também Andy Sneap tem momentos em que parece estar a mais, e com o seu currículo não merece ser músico de sessão. Muito haveria para dizer sobre os JUDAS PRIEST desta década, por oposição aos de décadas atrás. Se calhar o alinhamento fala por si, com temas como «Turbo Lover» ou «Hell Patrol» a conseguirem ombrear com clássicos como «Freewheel Burning» ou «Sentinel». As várias fases acabam a coexistir bem em palco, mas isso não é necessariamente um bom sinal. O término foi feito com um conjunto de clássicos incontornáveis e obrigatórios que já fecham os concertos há mais de uma década. Visualmente espetaculares, conseguiram surpreender nesse aspecto, por vezes mais que a música.
O habitual arranque de dois palcos em simultâneo, para diminuir o impacto do escoamento da multidão, levou a dificuldades em assistir a tudo. Entre DARK FUNERAL, no Ritual Stage, e ME AND THAT MAN, no Desert Stage, apareceu ainda um terceiro competidor, a área de alimentação. Os três espaços dividiram o público, com muitos a fazerem tempo para os espanhóis HAMLET. Em termos de assistência, foram os suecos que ganharam, com a maior audiência, no Ritual, do dia, num concerto intenso, que pecou pelas paragens entre músicas. Soube bem poder escutar «Open The Gates» de novo. Quanto aos ME AND THAT MAN, ficou a sensação de que Nergal acaba a apoiar-se demasiado nos músicos que o rodeiam. Parecendo estar com problemas de som em palco, o músico tirou alguma da introspecção às músicas, tornando-as um pouco mais “festivaleiras”. Ficaram a perder nessa abordagem, ou então era por ser final de noite e o espaço estar a ser invadido pelo cheiro de comida. Pode dizer-se que, estranhamente, Nergal, nesta noite, perdeu para o black metal.