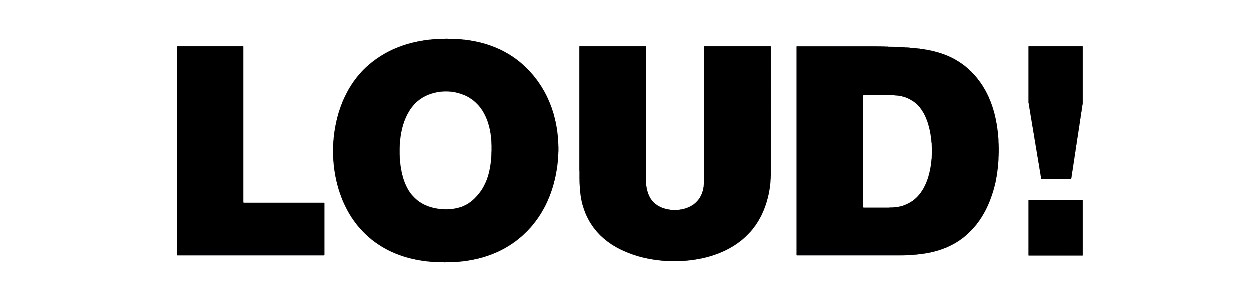Conforme mencionado no título do seu documentário retrospectivo mais recente, o muito aplaudido «Endurance», os brasileiros SEPULTURA têm revelado níveis de estoicidade (e de teimosia, diriam alguns) que não são, definitivamente, para qualquer um. Resultado, apesar de muitas e importantes mudanças estruturais, que viram a formação clássica com os irmãos Cavalera desmembrar-se ainda no final dos anos 90, ao longo de mais de três décadas, os músicos liderados pelo guitarrista Andreas Kisser têm sabido exactamente como manter os pés na terra e superar todas as dificuldades através de uma carreira constante e recheada de surpresas, durante a qual – pesem os ocasionais altos e baixos – sempre fizeram questão de quebrar barreiras e ir um pouco mais além. Para celebrar o lançamento o seu mais recente álbum de estúdio, o épico «Quadra», sentámo-nos com o vocalista Derrick Green – que, por esta altura, faz parte do grupo há mais de vinte anos – para uma sincera conversa sobre “o estado da nação”.
O «Quadra» é já o nono que gravas com a banda. Como é estar nos Sepultura neste momento?
Eu sinto-me fantástico. Sentimos que, nestes últimos anos, o interesse em relação ao que fazemos tem vindo a aumentar e acho que essa é a maior prova que poderíamos pedir de que continuamos ser relevantes. E isso é óptimo; não é que pense no assunto com muita frequência, porque estou apenas a viver a minha vida, mas quando me perguntam sobre isso… Sinto-me abençoado por, tanto tempo depois, ter esta oportunidade de ainda fazer digressões e música nova com os Sepultura.
Porque escolheram a «Isolation» para representar o álbum?
É um tema directo, tem uma pegada tão poderosa, e o ritmo é tão forte, que achámos que poderia funcionar bem. De certa forma, acho que funcionou como uma murraça na cara até para os fãs mais hardcore dos Sepultura, por isso é a forma perfeita de introduzir as pessoas ao «Quadra». A editora sugeriu lançarmos o tema como primeiro single e nós sentimo-nos totalmente confortáveis com essa opção, porque achamos que é uma canção bem forte. Não será, no entanto, um tema totalmente representativo do álbum como todo, porque há muitas mais coisas a acontecerem além destas descargas de energia directa.
Esta pergunta é sempre injusta, mas… Tens um tema preferido neste disco?
É sempre injusto, de facto. [pausa] Neste momento, a «Isolation» está, sem dúvida, entre as minhas favoritas. É super-rápida, o que acaba por ser sempre um desafio, e digamos que não é a canção mais fácil de tocar, mas isso, para mim, como artista, acaba por ser bom. Os ensaios foram entusiasmantes e agora, a cada vez que a tocamos, tento fazer sempre melhor que da última vez… Isso é muito importante para não nos tornarmos complacentes, gosto de estar em bicos dos pés, sabes? É muito mais criativo do que estar em terreno confortável. Além disso, a reacção do público à canção tem sido fantástica – o que ainda nos dá mais moral.
“Nós nunca nos acobardamos e enfrentamos os desafios de frente; arrisco-me até a dizer que vivemos para esses momentos, em que está tudo a acontecer.“
Tocaram-na, pela primeira vez, no Rock In Rio Brasil. Com é tocar pela primeira vez uma canção frente a milhares de pessoas?
Estrear um tema nessas condições é sempre uma pressão do caraças. [risos] Ainda por cima não é só o facto de irmos tocar um tema pela primeira vez em público frente a tanta gente, é também o sabermos que o concerto vai ser gravado, transmitido na televisão e na rádio em todo o Brasil e, basicamente, também numa série de países espalhados pelo mundo. Sabermos que temos de fazer as coisas bem em frente a milhões de pessoas, não são apenas aquelas que estão ali à nossa frente, traz, como é óbvio, muita pressão extra. Mas nós nunca nos acobardamos e enfrentamos os desafios de frente; arrisco-me até a dizer que vivemos para esses momentos, em que está tudo a acontecer. Depois, a reacção foi fantástica e… Às vezes não é fácil estrear canções em festivais, que são eventos em que o público quer, na sua grande maioria, ouvir os temas que conhece, os refrões que sabe cantar, mas para nós é muito importante fazê-lo. Foi para serem tocados ao vivo que os temas foram escritos, por isso estamos entusiasmados para mostrá-los ao público.
É sempre mais entusiasmante tocar o material mais recente do que o antigo, sobretudo aquele que tocam obrigatoriamente em todos os espectáculos?
Eu, para ser muito sincero, gosto de uma combinação entre o material mais recente e os temas incontornáveis, digamos assim. Os setlists são sempre um desafio, sobretudo no caso de bandas como os Sepultura, que já têm um catálogo muito grande. E isso, por si só, também acaba por ser um talento, porque temos de criar alinhamentos que sejam, de facto, apelativos para o público e para nós próprios. Observar as reacções do pessoal nos concertos faz-nos aprender imenso, faz-nos dar importância à ordem pela qual tocamos as canções… E isso é algo que demora tempo a afinar, e que só se consegue passando muito tempo na estrada, que é o que temos feito ao longo dos anos. Há países em que gostam mais de determinadas canções, há países em que gostam mais de uns álbuns do que de outros. Temos de ter tudo isso em conta. Por esta altura, sinto que já conseguimos atingir um equilíbrio e, apesar de gostarmos sempre de dar um shake sempre que possível aos alinhamentos, atingimos o ponto em que ficamos todos satisfeitos.
Como vão ser os concertos do ciclo do «Quadra»?
O plano passa por, como sempre, estarmos o melhor ensaiados e entrosados possível. É nisso que vamos começar a trabalhar agora, nos ensaios, sendo que queremos estar aptos a tocar todos os temas do álbum. Assim podemos ir experimentando alguns, vemos como as pessoas reagem, vamos alternando com outros, e vamos acabar por perceber quais é que funcionam melhor. Queremos, definitivamente, tocar tanto material novo quanto possível, sem descurarmos o que as pessoas querem ouvir também. Começámos a fazer as coisas assim com o último álbum, o «Machine Messiah», do qual andámos a tocar seis canções na maior parte das digressões recentes. E as coisas correram bem, tanto para os fãs como para nós próprios.
“A evolução é muito importante para os artistas e músicos… É importante continuar a criar, de preferência algo que estabeleça uma conexão com as pessoas.“
Mostra-vos que não é só nostalgia, não é?
Sim, era a isso que me referia quando disse que é bom percebermos que as pessoas ainda nos consideram relevantes. A evolução é muito importante para os artistas e músicos… É importante continuar a criar, de preferência algo que estabeleça uma conexão com as pessoas. Para mim, isso sempre foi o mais importante – sempre me senti atraído por bandas que se atreviam a fazer coisas diferentes das que já tinham feito. Sempre fui a favor de um disco ser diferente do anterior; como fã, andei sempre à procura das bandas que me pudessem surpreender. Não estava interessado em ouvir o mesmo álbum outra vez, não queria que os músicos fizessem exactamente as mesmas coisas que já tinham feito, porque isso seria demasiado aborrecido para mim e, acredito, para quem estava a “criar”.
Para ti, foi sempre, mesmo sempre, assim?
Não. É lógico que também passei por aquela fase em que me sentia traído quando as minha bandas preferidas mudavam, mas… Não passámos todos por isso, em determinada altura das nossas vidas? [risos] Quando era mais novo não sabia sequer quais eram as dinâmicas de estar num grupo, por isso via tudo só pela perspectiva do ouvinte. Hoje em dia, estou numa posição totalmente diferente e sei inclusivamente que há bandas que se sentem totalmente confortáveis a fazer sempre a mesma coisa. Os AC/DC, por exemplo. Essa é a marca registada deles, abraçaram completamente a fórmula, que tem um mérito inegável, e toda a gente fica feliz enquanto só fizeram o que é AC/DC. Se tentassem fazer algo diferente, provavelmente seria um desastre… E eu, provavelmente, ia ficar lixado. É o que é… Há fãs e músicos que querem uma coisa, depois há outros que querem outra.
Os Sepultura, pelo contrário, tentaram sempre ir mais além.
Pois, no nosso caso foi assim mesmo desde o início. Ainda antes de eu estar na banda, era assim que eles faziam as coisas – essa vontade de fazer coisas diferentes sempre esteve presente no ADN do grupo. O «Arise» é um álbum totalmente diferente do «Roots», o «Chaos AD» é diferente do «Beneath The Remains», o «Schizophrenia» é… Enfim, não há dois álbuns dos Sepultura que soem exactamente iguais. Há, e sempre houve, uma linha de pensamento contínua, porque a ideia é sempre fazer mais e melhor. É óbvio que vai ter sempre um som pesado e aqueles elementos definidores dos Sepultura, mas isso nunca impediu a banda de criar e tentar coisas diferentes. Penso que, por esta altura, os nossos seguidores já estão à espera do inesperado… Esperam sempre muito de nós e, sobretudo, a geração mais nova tem a mente mais aberta. Posso estar enganado, mas sinto que estão sempre à espera de algo novo, único, a cada vez que lançamos um novo álbum.
É fácil irem sempre reinventando a música?
Já nem pensamos nisso, para nós é algo natural. De certa forma, acho que não sabemos fazer as coisas de outra forma. Entre todas as tours que fazemos, as outras bandas com que tocamos, as viagens que fazemos, as culturas com que tomamos contacto e o facto de ainda estarmos aqui, a fazer aquilo que amamos, não nos falta inspiração para irmos tentando desafiar-nos. Nós mudamos como pessoas, o mundo está a mudar à nossa volta, tudo isso nos afecta e acaba por passar para a música.
“Toda a gente devia questionar tudo. Ninguém devia aceitar cegamente seja o que for que lhes seja posto à frente.“
Qual era a ideia base quando começaram a escrever este disco? Que objectivos tinham desta vez?
Foi o Andreas [Kisser, guitarrista] que apareceu com o conceito e com o título – “quadra”. Andava a ler um livro que abordava conceitos como a numerologia e o facto do número quatro ser muito místico no sentido que representa o momento em que alguma coisa acontece. A palavra “quadra”, no Brasil, também representa um campo de jogo, que é um sítio onde se tem de obedecer a determinadas regras… E isso levou-nos para as vidas que vivemos, que também são assim. Todos nascemos dentro desta espécie de caixa, onde decorre um jogo – que é a vida de cada um. Depois há regras, e todos temos de as respeitar; sem que saibamos bem porquê, uma vez que as leis são votadas e a população depois não sabe bem porque é que gosta de umas medidas e não de outras. E, claro, em todas estas “quadras” há dinheiro que, em última instância, acaba por governar tudo.
Para ti, qualquer é a mensagem?
Acho que toda a gente devia questionar tudo. Ninguém devia aceitar cegamente seja o que for que lhes seja posto à frente. A informação disponível online, publicada por gente que não fez pesquisa absolutamente nenhuma sobre o assunto em questão ou que, pior, desconhece totalmente o que está a partilhar… Enfim, sinto que, infelizmente, as pessoas não questionam nada, limitam-se, pura e simplesmente, a acreditar. E, na sociedade em que vivemos, é cada vez mais imperativo questionar. Isso começa a notar-se, porque as gerações mais novas não têm receio absolutamente nenhum de questionar seja o que for. É certo que tudo depende da idade, até da cultura de cada um, mas está provado que o ser humano pode mudar e já há mais gente a querer saber a verdade por trás das coisas.
Está cada vez mais difícil viver no Brasil?
Eu acho que sim, mas… Apesar de ter vivido no país durante uns vinte anos, continuo a ter uma visão periférica, porque este não é, na verdade, o meu país natal. Sinto-me em casa, é lógico que sim, mas as circunstâncias de vida são diferentes – muito diferentes da do brasileiro comum. Além disso, as circunstâncias são totalmente diferentes para um brasileiro que nasce em São Paulo e um brasileiro que nasce no interior do país. São vidas totalmente diferentes. Há clivagens brutais nos níveis de riqueza, por exemplo; agora há um presidente meio tremido, há sempre corrupção no ar… E sobretudo isso, a corrupção sempre presente, tem atrasado o desenvolvimento do país, porque tem um impacto muito profundo no povo. No entanto, mais uma vez, há toda uma geração mais nova que quer ver as coisas mudarem, entrarem nos eixos. O Brasil é um país com uma população muito jovem, onde as coisas podem mudar, por isso acredito que terá um futuro brilhante. É só dar-lhes tempo para o ritmo mudar, para acabarem com as ervas daninhas.
“Chega a ser incrível como este tipo de música, o heavy metal, teve tanto impacto em todo o lado.“
Com o «Machine Messiah» abordaram a inevitável robotização da sociedade, com o «Quadra» sugerem que se questione tudo. Quão útil achas que a música pode ser para suscitar conversa válida sobre assuntos socio-políticos?
Penso que há uma linha muito ténue… [pausa] Muitas vezes, gosto de ouvir música sem necessitar que alguém me esteja a dar um sermão, seja sobre o que for. Acho que há uma forma táctica de o fazer. Quando escrevo as minhas letras, tento sempre colocar questões, não quero que soe como se estivesse a dar uma lição a alguém, percebes? Eu prefiro pôr as pessoas a pensar, não quero que vejam a minha visão como a verdade – as coisas não devem ser vistas como dados adquiridos. Há questões com as quais me identifico, a forma como tratamos o lixo ou o ambiente, por exemplo, são dois tópicos que vão estar sempre presentes nas minhas letras. Não são só sobre mim, são acerca de todos nós. É acerca do futuro, dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos. E sim, gosto de pensar que faço o que está ao meu alcance para termos um futuro melhor – seja através da nossa músico ou da forma como me comporto no meu dia-a-dia. A música é uma arma muito honesta, carregada de emoção, que cria um impacto mágico com o ser humano – pode realmente fazer com que as pessoas abram a mente, comecem a pensar.
Será, muito provavelmente, uma das linguagens mais internacionais.
Sem dúvida! Nós sentimos isso quando tocamos pelo mundo, vamos a muitos países onde não vão assim tantas bandas internacionais e as pessoas têm reacções espantosas. Podem nem sequer falar inglês, mas se desenvolverem uma relação com uma canção, não há nada a fazer. Vão saber as letras, vão cantá-las mesmo que não saibam muito bem o que estão a dizer. O som quebra fronteiras, até enormes diferenças culturais, totalmente – nós vemos isso em todo o lado. Chega a ser incrível como este tipo de música, o heavy metal, teve tanto impacto em todo o lado. Eu falo com as pessoas, algumas dizem-me que lhes mudámos a vida para sempre ou que os ajudámos em determinado momento… Mesmo assim, continua a ser inacreditável como o metal chegou a todo o lado de uma forma tão positiva. É como uma grande família, ligada pela dedicação à música.
Disseste que o Andreas apareceu inicialmente com o conceito. Até que ponto tiveste mão na escrita das letras?
Curiosamente, este foi o primeiro álbum em que escrevi todas as letras. Geralmente, fazia 80%, depois colaborava em ideias com o Andreas e escrevíamos o resto juntos. Desta vez escrevi tudo! Foi um processo interessante, porque tivemos tempo para preparar tudo. Com o «Machine Messiah» sentimo-nos forçados a apressar algumas fases do processo e, desta vez, não quisemos cometer o mesmo erro. Garantimos que estava tudo no sítio antes de irmos para o estúdio. Eu não estava no Brasil, por isso o Andreas e o Eloy foram desenvolvendo as canções musicalmente e eu, à distância, fui acompanhando tudo. Tive tempo para perceber bem que tópicos combinavam com a música, criei um quadro com ideias… E, basicamente, olhei para ele todos os dias até perceber que as coisas estavam nos sítios certos. Acho que isso se nota muito no resultado final, porque os temas são mais elaborados, há definitivamente uma atmosfera mais dramática – é como uma história épica, do início ao fim, leva-nos a uma série de sítios diferentes.
Quão importante é viajarem para longe de casa, até à Suécia, neste caso, para gravarem um álbum?
Está a tornar-se cada vez mais importante, para ser muito sincero. Desta vez chegámos ao estúdio todos orgulhosos, com uma maqueta de pré-produção excelente, e foi um prazer voltar a trabalhar com o Jens Bogren. Não sei explicar porquê, mas desta vez senti-o mais envolvido ainda. No «Machine Messiah» estávamos todos tão focados, que… Não sei, ele acabou por não se envolver de forma tão intensa. Depois, estávamos ali isolados, vivemos num apartamento anexo ao estúdio, que é mesmo ao lado da casa do Jens, por isso não há grandes distracções. Para nós, é mesmo a melhor forma de trabalhar neste momento. Não temos de pegar no carro para ir a lado nenhum, aquilo de que precisamos está tudo à nossa frente, o que ajuda muito. Passámos cinco ou seis semanas a viver e a respirar os temas, é algo que aumenta a comunicação entre todos nós e isso acaba por ser muito inspiracional.
Mais de duas décadas depois de te teres juntado à banda, que balanço fazes desta viagem?
Tem sido uma viagem incrível… E, quando olho para trás, só posso dizer que me sinto muito satisfeito com a forma como as coisas têm corrido. Desde que entrei para a banda, soube sempre que nada seria fácil e, ao mesmo tempo, também estava ciente de que as recompensas são muito mais saborosas quando tens de lutar para atingir os objectivos a que nos propomos. Talvez por isso, abracei este desafio com toda a força e, felizmente, correu tudo bem. Melhor do que alguma vez poderia ter imaginado. O facto de ainda nos mantermos aqui, sobretudo numa altura tão problemática para a indústria discográfica, com todas as alterações tecnológicas e tudo o mais, é – sem dúvida – uma enorme vitória por si só. Além disso, sinto, muito honestamente, que estamos a fazer a melhor música que alguma vez fizemos, por isso não me posso queixar de nada. Estas últimas décadas têm sido fantásticas.
Recorde-se que os SEPULTURA vão actuar no Vagos Metal Fest, que decorre de 3 a 5 de Agosto na Quinta do Ega. A banda sobe ao palco ‘Sublimevilla’ na quinta-feira, dia 3, às 23:00. Os bilhetes para a 6.ª edição do evento estão disponíveis no site oficial e nos locais habituais.